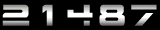Antes que me tampem pedras dizendo que estou contra as novas tecnologias, devo salientar que esta postagem é apenas um comentário sobre a questão da autoria de textos que circulam na rede e que o escrevo por causa da recorrência de alguns equívocos, os quais são sempre indesejados.
Na "terra de ninguém" em que se converteu a internet, os chamados grandes escritores assinam textos que suas penas provavelmente nunca escreveriam e, descuidados, muitos leitores continuam fazendo a divulgação dos referidos textos sem tentar descobrir a quem, de fato, deve ser creditada a autoria. Talvez para darem-se ares de conhecedores de Literatura, condição que certamente ajuda a montar um distinguido perfil virtual... Talvez por pressa ou, ainda, pela impossibilidade de conferir a autoria, de tão emaranhada que esta se encontra na rede.

Por conta disso, autores como Gabriel García Márquez, Luis Fernando Veríssimo e Clarice Lispector, entre outros, têm seus nomes frequentemente relacionados com textos que não escreveram e, o que é pior, textos que não guardam nenhuma relação com seu "estilo". O autor de
Cien años de soledad, por exemplo, teria escrito um texto chamado
La marioneta de trapo, que circula na internet desde 1999 e supostamente seria uma despedida preparada por ele pouco antes de morrer (sic). De acordo com o site
quatrocantos.com, o verdadeiro autor seria um ventríloquo chamado
Johnny Welch.

O brasileiro Luis Fernando Veríssimo, por sua vez, é dado como autor de uma infinidade de textos. Um deles, intitulado
A vergonha, chegou a ser reproduzido em jornais por seu conteúdo: uma crítica ao Big Brother Brasil - o programa que todos criticam e, no entanto, se perpetua na televisão brasileira. Amparada, porém, na "assinatura" de Veríssimo a crítica ganharia mais peso. O escritor já desmentiu a autoria do texto em crônica enviada a Ricardo Noblat e que pode ser lida
no blog deste último. Segundo o site
e-farsas, o verdadeiro autor do libelo seria Marcelo Guido.
Também Clarice Lispector é indicada como autora de prosas e poemas que jamais escreveu. No caso dos poemas, a coisa fica ainda mais incongruente, pois a escritora não publicou nenhum e a única referência conhecida do fato de que tenha escrito poemas algum dia é uma carta que Manuel Bandeira enviou a ela pedindo desculpas por ter criticado alguns versos que Clarice lhe havia mostrado.

Quanto aos textos em prosa atribuídos à autora de
A hora da estrela,
o caso mais emblemático é o de
Mude. O autor verdadeiro, Édson Marques, está movendo um processo na justiça contra o filho da escritora que, acreditando na autoria apontada pelos internautas, autorizou o uso do texto em um comercial da Fiat. Os desdobramentos do caso podem ser lidos em:
http://desafiat.blogspot.com/.
Apesar disso (e até de uma nota na
revista Veja em 2003), o texto continua sendo creditado a Clarice Lispector, inclusive em contextos formais, onde, supõe-se, essa verificação de fontes deveria ser mais rigorosa. Por isso, causou-me um certo espanto a indicação de Clarice Lispector como autora do texto em questão na abertura do
V Encontro Regional de Bibliotecas, realizado no mês passado em Juiz de Fora e já comentado
aqui no blog.